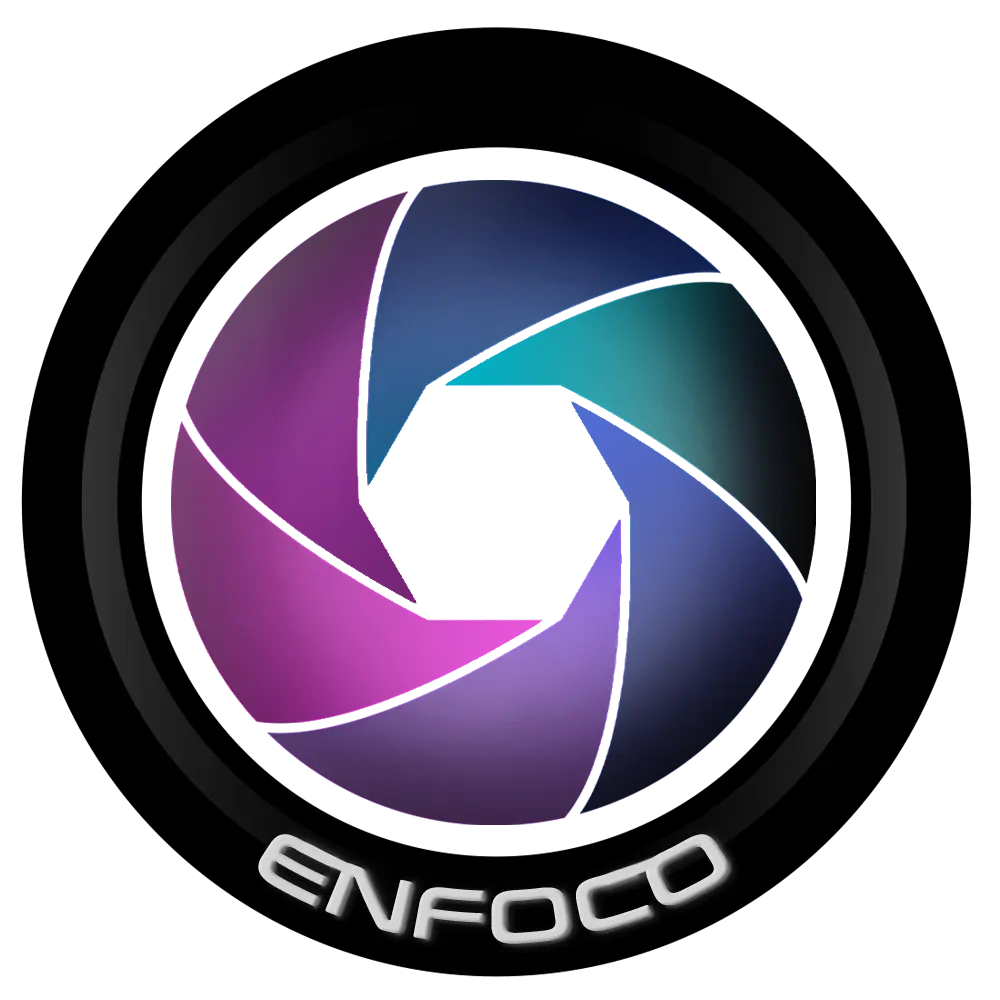Especial
Violência armada em São Gonçalo e o efeito devastador nas escolas
Como o confronto armado afeta o desenvolvimento do estudante
 Siga o Enfoco no Google News
Siga o Enfoco no Google NewsReportagem: Eduarda Hillebrandt e Matheus Merlim

A violência armada que subjugou a população de São Gonçalo a uma rotina de temor reservou para a educação básica um efeito imobilizante: no último ano letivo [2019], ao menos cinco mil estudantes da rede estadual tiveram as aulas suspensas por conta de operações policiais e confrontos entre facções criminosas, segundo dados da Secretaria de Estado de Educação (Seeduc). O levantamento aponta que 11 das 76 unidades do ensino básico acabaram no meio do fogo cruzado. Estes colégios estão localizados nas comunidades de São Gonçalo, cidade que concentra a segunda maior população e o oitavo município com o menor PIB per capita do estado do Rio.
Os dados, obtidos através da Lei de Acesso à Informação, indicam um recrudescimento dos confrontos no entorno escolar. Aulas em escolas estaduais de São Gonçalo foram suspensas 52 vezes por conta da violência em 2019, o que representa um aumento de 23,8% em relação ao ano anterior. Desamparados pelo estado, cada colégio se vê obrigado a criar seus próprios protocolos de sobrevivência.
Os confrontos ameaçam um dos polos educacionais da cidade, concentrado na área contígua ao Morro do Feijão, favela conflagrada no bairro Patronato. O polo abriga o Colégio Estadual Walter Orlandine — que figura entre as cinco escolas estaduais da cidade com melhor desempenho no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) em 2017, com 3.9 pontos — e o único campus público da cidade, a Faculdade de Formação de Professores (FFP) da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj).

Ainda antes da pandemia da Covid-19, em 4 de março [2020], uma operação da polícia militar deixou em sobressalto os cerca de 1,5 mil alunos do Walter Orlandine. As trocas de tiros e o sobrevoo do helicóptero iniciaram no turno escolar matutino, que acabou suspenso. As salas de aula mais vulneráveis, com janelas voltadas para a comunidade, foram imediatamente evacuadas. A estudante do 3º ano do ensino médio Bianca Silva*, 17 anos, relatou que naquele dia as turmas foram abrigadas no refeitório e no auditório.
“Essa não foi a primeira vez que teve tiroteio no Walter [Orlandine], ainda mais que tem salas de frente para o [Morro do] Feijão. A gente teve que ter a matéria mesmo assim com pouquíssimos alunos na sala, foram os que vieram porque não ficaram sabendo do tiroteio antes da aula, como eu. Quem estuda em áreas que não tem esse risco, não tem essa preocupação de estar na escola e do nada ter que se agachar embaixo de uma mesa”, afirmou Bianca.
Questão de sobrevivência
A recorrência dos tiroteios obrigou a diretoria da Uerj em São Gonçalo, que concentra cerca de 3 mil acadêmicos, a aprender a distinguir o calibre do armamento, a distância e a direção dos disparos de arma de fogo. De acordo a diretora da unidade, Ana Santiago, as diretrizes foram estabelecidas com a comunidade escolar para evitar que os alunos tentem deixar o espaço, ficando vulneráveis no pátio durante a fuga.
Ainda segundo a diretora, o protocolo estabelecido internamente foi:
- Análise do nível do confronto;
- Corredor de evacuação dos blocos B e C, que fazem fronteira com o Feijão;
- Abrigar estudantes no bloco principal;
- Suspensão ou retomada das aulas, conforme avança o confronto.
“Os episódios de tiros aqui sempre foram muito traumáticos, porque as pessoas entram em desespero. Os blocos da frente ficam mais protegidos, mas os blocos de trás não. Qualquer episódio de violência aqui vai para o grupos pelo WhatsApp. É um rastro de pólvora e em questão de minutos recebemos um milhão de mensagens perguntando se não vai ter aula”, relatou a diretora.
Para a educadora Elaine Ferreira Rezende, especialista em Sociologia da Educação e professora da FFP, a rotina de alerta na qual os estudantes estão submetidos é consequência de uma lógica na qual as escolas que precisam se adaptar e não as forças de segurança pública.

Às vezes você acaba tendo a escola como único aparelho do estado na comunidade"

"Os Cieps, por exemplo, foram feitos com a arquitetura para servir a comunidade. O ideal não é retirar as escolas, mas fortalecer os equipamentos que já existem. A escola precisa dialogar com a cultura local. A política de segurança que entra ali disparando é que está errada".
Embora a Uerj, que tem autonomia universitária, e as escolas estaduais tenham definido áreas de abrigo para os estudantes, a Seeduc admitiu, através de ofício à Defensoria Pública do Rio de Janeiro (DPRJ), não ter qualquer diretriz, programa ou treinamento para evacuação das salas de aula.
Reféns da guerra
Um dos episódios mais dramáticos da violência armada no entorno escolar no ano passado foi registrado em vídeo por uma estudante do Ciep 122 Ermezinda Dionizio Necco, no Jardim Miriambi. Em 20 de maio de 2019, após uma madrugada de disputas entre facções criminosas por pontos de venda de drogas, a polícia civil enviou sua tropa de elite para abreviar a guerra do tráfico.
Diante dos rasantes do helicóptero da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e das trocas de tiros intermitentes próximas ao colégio, os estudantes precisaram se refugiar nos corredores. Três dias depois, outro tiroteio por volta de 15h, em horário escolar, levou a polícia militar, através do batalhão local, a realizar uma incursão na comunidade com um veículo blindado.
O laboratório de dados Fogo Cruzado estima que as aulas no Ciep 122, localizada na via principal do Jardim Miriambi, tenham sido interrompidas pela guerra seis vezes em 2019. O Comando Vermelho (CV) alterna períodos de poder na comunidade com o Terceiro Comando Puro (TCP).
O colégio atende 860 alunos em três turnos, dos anos finais do ensino fundamental ao ensino médio. De acordo com André Souza*, professor da unidade, os docentes e alunos têm batalhado para tentar transferência para colégios mais seguros desde o início da disputa de pontos de tráfico na comunidade, há quatro anos.
“Reparamos a migração de muitos traficantes para São Gonçalo, que foi o estopim da guerra, mas sentimos o baque quando um aluno nosso foi morto, em junho de 2016. Foi algo que nos marcou porque era um moleque muito bom, a escola toda o conhecia. Trabalhava o dia todo na padaria para de noite estudar. Os traficantes paravam na padaria. Quando estava indo para escola, passou um carro atirando e foi baleado”, relembra.
No ano seguinte, segundo André, um criminoso armado com um fuzil aproveitou a ausência de porteiro e roubou os estudantes. “Quando ligamos para o batalhão, falaram ‘tá muito perigoso para subir aí’”, relatou.
“A gente começa a aula, dá 50 minutos e dá tiro, aí precisa ir embora ou precisamos reter os estudantes na escola. Como você retém o aluno na escola dando conteúdo? Não dá. Tem helicóptero passando ali, família preocupada ouvindo tiros. No ranking da Seeduc, a escola caiu de conceito, e a gente repara que é pela questão da violência”, analisa o docente.
Sobre os episódios de suspensão por violência armada em 2019, a Seeduc alega que foram episódios pontuais, parciais e as aulas foram repostas, sem prejuízos educacionais. Sobre a integridade da comunidade escolar, a secretaria afirma que implementou algumas medidas de segurança no ano passado. Ao serem constatados ‘atos infracionais ou ameaça à integridade da comunidade escolar, a direção da unidade deverá acionar imediatamente a Polícia Militar, e a Delegacia Policial da localidade, além do Conselho Tutelar’.
Ou seja, no cenário em que parte das suspensões ocorrem nas operações policiais, a Seeduc defende o acionamento das próprias forças policiais. Um estudo do aplicativo Fogo Cruzado, laboratório de dados apoiado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), constatou que 89% dos confrontos no entorno escolar de São Gonçalo tiveram presença de agentes de segurança pública.
Pelo estudo, o ano pode ter sido muito mais duro para o cenário educacional de São Gonçalo do que exibem os dados do governo estadual. Considerando um raio de 300 metros e o horário letivo, as escolas permaneceram 201 vezes sob a linha de tiro ao longo do último ano. Professores que atuam no ensino básico acreditam que a discrepância se deve ao fato de que a via de regra é manter os estudantes do portão para dentro da escola.
Seguindo a linha militarista do governador Wilson Witzel (PSC), a principal aposta da Seeduc para lidar com o problema é a convocação de militares da reserva para policiar as escolas, através do programa chamado ‘Cuidar’. O titular da pasta, Pedro Fernandes, já admitiu remover as escolas de áreas de risco. Nenhum dos projetos saiu do papel. O secretário negou esclarecimentos.
Ensino prejudicado

Os tiroteios não são os únicos percalços na trajetória educacional dos jovens que moram nas áreas de risco de São Gonçalo. Um estudo epidemiológico conduzido pela Fundação Oswaldo Cruz (FioCruz) apontou que 93,7% dos estudantes gonçalenses de 9 a 15 anos presenciaram episódios de violência no bairro onde residem, como: ver alguém ser preso, espancado, esfaqueado, baleado; ver roubos e arrombamentos; ouvir tiros; ver tráfico de drogas e bandidos armados.
O estudante Gabriel Rosa Cândido, de 18 anos, se considera uma exceção na conjuntura de violência em que estudou ao ter passado no vestibular de duas universidades públicas. O jovem cursou o ensino médio no Colégio Estadual Lauro Corrêa, situado na Rua Macaé, próximo à comunidade de Três Campos, no bairro Trindade. Com cerca de 500 alunos nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio, o colégio registrou o maior índice de reprovação entre as unidades estaduais da cidade, segundo avaliação do Ministério da Educação.
“Já teve situações de tiroteio intenso, de termos que ir, todo mundo, para uma sala reservada, que ficava mais na parte de trás da escola. E era muito tiro, muito tiro”, contou Gabriel, que relatou já ter sido revistado durante operação da polícia civil, apesar de estar uniformizado a caminho da escola.
Prestes a ingressar no curso de Estatística da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), Gabriel atribui o baixo desempenho dos alunos ao cotidiano violento que, por muitas vezes, impossibilita que o conteúdo seja aplicado na escola.
“Já fiquei sem professor de matemática no primeiro ano, já fiquei sem biologia, química, diversos anos sem professor. Na minha turma, foram três alunos aprovados no vestibular e eu fui o único que passou para o curso que queria realmente. Os outros tiraram uma nota suficiente para passar em algum curso, mesmo porque o sistema de cotas é bem complicado”, afirmou.
Traumas
Gabriel é filho da professora aposentada de História, Carla Adriana Rosa, de 53 anos, que atuou na mesma escola que o filho estudou. Um dos principais motivos para ter deixado o magistério foi o adoecimento físico e mental causado pelo estresse. Segundo Carla, a rotina de constantes operações policiais e confrontos aterroriza os moradores da região, funcionários e alunos do colégio.
“Devido ao meu problema de saúde emocional, eu botava o pé na rua e via aquele monte de camburão, me dava medo. Aí, eu voltava para casa. Se eu percebo que isso está acontecendo e meu filho sai de casa, eu fico desesperada. É muito angustiante. A gente que mora e trabalha nesse ambiente não só fica mercê da violência no caminho, como às vezes ela entra na escola. Muitas vezes a violência não se manifesta, mas está ali, nas drogas. O comportamento desses alunos que se envolvem dentro da escola é outro, eles não querem chamar atenção. Além de tudo é um ser humano, então você desenvolve afetividade por eles. E eles morrem, isso dói muito”, lamenta a professora.
O estresse causado pelas rajadas de balas perdura para além do tiroteio, criando uma atmosfera de tensão na sala de aula. Segundo Carla, as ocorrências são traumatizantes tanto para o professor quanto para o aluno.

Você não consegue entrar em uma sala de aula para dar uma aula normal. Os alunos não conseguem aprender, você não consegue ensinar. É angustiante"

A violência no entorno escolar tem sido um dos principais fatores para a falta de professores na rede estadual de ensino, avalia Maria Beatriz Lugão, coordenadora do Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação (Sepe-RJ). De acordo com a sindicalista, os diagnósticos de psiquiatria são o principal fator para licenças médicas de docentes na rede estadual.
Lugão leciona artes há três décadas no Ciep 050 Pablo Neruda, que faz fronteira com Jardim Catarina, um loteamento com 73 mil moradores que, nos últimos cinco anos, foram cerceados por barricadas instaladas por grupos criminosos. No último ano, durante um tiroteio entre facções na rua da escola, uma marginal da rodovia RJ-104, a professora se viu obrigada a conduzir os estudantes para os corredores.
“A violência no entorno escolar ficou muito grande de um tempo pra cá. Primeiro, a dificuldade do acesso à própria escola. Morar perto de um local onde tenha muita batida policial, muito tiroteio, impede que saiam de casa. Então tem prejuízo do dia letivo. O segundo é o emocional, ninguém vive constantemente isso sem ter comprometimento emocional. O terceiro é que você começa a criar uma cultura de violência, quando tem um local dominado pelo tráfico ou milícia cria-se uma cultura de poder e hierarquia. Vemos isso ser transportado para dentro da escola”, afirma.
A exposição do estudante à violência acelera o desenvolvimento de distúrbios psíquicos e traumas psicológicos graves, explica a psicóloga Marília Etienne Arreguy, docente do programa de pós-graduação em Educação da Universidade Federal Fluminense (UFF). A especialista conduz um projeto de pesquisa que analisa o quanto a violência do entorno escolar afeta o comportamento e desempenho do aluno.
"Qualquer um é capaz de perceber que ser educado em uma escola com região conflagrada, voltar e estar na escola compromete de média a larga escala todo o processo de escolarização dessas crianças. Evidentemente, vão ter pessoas que são resilientes, que vão conseguir, independentemente dessa situação toda, sair bem sucedidas. Mas aí é apostar em uma ponta da população. Não se pode apostar nesses únicos que vão escapar desse processo, porque a grande maioria vai ser profundamente afetada de forma traumática", disse a psicologa.
De acordo Arreguy, enquanto alguns estudantes expostos aos ambientes violentos tendem a apresentar mecanismos de inibição ou aversão à escola, o que pode resultar em evasão, outros podem se identificar com o agressor, como é o caso de jovens cooptados pelo tráfico. Ela acredita que interromper o ciclo de violência é mais eficiente que resolver o trauma de cada indivíduo.
“São as respostas que o aluno dá para o trauma coletivo e individual. Entretanto, muitas vezes a resposta da sociedade sobre o assunto é culpabilizar o próprio aluno pelo trauma que está sofrendo. Aí ele passa a ser aquele que não tem desempenho, não tem capacidade, aquele cujo o racismo institucional vai incidir, porque ele vai ser reprovado e excluído das chances sociais.”
Rotina do medo

A violência se distribui de forma desigual por São Gonçalo. A cada dez dias letivos perdidos por conta da violência urbana na rede estadual no município em 2019, sete foram no complexo do Salgueiro — formado por oito comunidades que abrigam, juntas, 50 mil pessoas. O complexo se expande entre a baía de Guanabara e o trecho da BR-101 com os maiores índices de roubo de carga do país.
Foi na área da baía, em Itaoca, que o estudante João Pedro, aos 14 anos, foi morto em 18 de maio deste ano durante incursão das polícias Civil e Federal. A ação gerou revolta e foi citada pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), para justificar a suspensão das operações policiais no estado do Rio no período de pandemia.
A unidade que mais precisa paralisar as aulas por tiroteios fica em uma das principais vias do Salgueiro, a Estrada das Palmeiras. Trata-se do Ciep 248 Professor Tulio Rodrigues Perlingeiro, que atende 330 alunos nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio. A escola obteve o quarto pior desempenho entre as instituições estaduais no município pelo Ideb 2015, última avaliação disponível para esta unidade, que não alcançou quórum de alunos nas avaliações educacionais posteriores.
Para chegar ao Ciep 248 pela estrada, é preciso atravessar dois entrepostos do tráfico, onde ficam baseados olheiros da facção. Nos dias de operação, essas ‘guaritas’ bloqueiam a rua com barris de metal, estruturas de cimento e qualquer outro material disponível para impedir o avanço de viaturas. Um dos entrepostos fica a menos de 500 metros do colégio. Quando a polícia incursiona o complexo, a estrada vira palco de guerra.
Planejamento
O comandante do 7º Batalhão de Polícia Militar de São Gonçalo (7º BPM), tenente-coronel Gilmar Tramontini, nega qualquer ‘efeito colateral’ das ações nas regiões escolares e garante que os confrontos são iniciados pelos grupos criminosos. Ele relata dificuldade em avisar às direções escolares sobre as operações.
“A maioria das operações que realizamos são planejadas e necessitam de um grau de sigilo. É muito complicado conseguirmos alcançar esse meio termo, mas a gente tenta. Não temos registro, nem histórico de efeito colateral em ações nossas nas regiões escolares”, esclarece Tramontini, no comando do batalhão desde setembro de 2019.
Mais do que aplicar as instruções normativas, a pesquisadora Jaqueline de Oliveira Muniz, professora adjunta do Departamento de Segurança Pública da Universidade Federal Fluminense (UFF), defende que as operações, como instrumento de segurança pública, sejam repensadas.
“Há bastante tempo no Rio de Janeiro não se policia. Tem se substituído a rotina de policiamento ostensivo por operações. Uma polícia de operações não produz controle sobre territórios ou sobre a população. Não produz regularidade, com isso ela não reduz o risco porque não garante previsibilidade”, explica Muniz.
Ainda com a adoção de parâmetros operacionais pelas forças de segurança, os confrontos travados entre facções rivais não seguem protocolos formais. Os grupos criminosos constituem um poder paralelo, na visão de Muniz, que os cita como ‘governos autônomos’. Esta mesma autonomia é percebida também por moradores.
“O Rio de Janeiro todo está violento. Andamos pela rua com medo, mas quando chego no Salgueiro, não tenho medo. Existe uma política paralela que garante minimamente a nossa segurança. Se tivesse operação, eu diria para vocês [equipe de reportagem] não virem. E nem conseguiriam chegar, com as barricadas fechadas”, afirma uma moradora que, temendo represálias, optou pelo anonimato.
As operações policiais no estado devem seguir a instrução normativa nº 03/2018, editada pela Secretaria de Estado de Segurança (desmembrada por Witzel) na época da intervenção federal. A norma determina que sejam evitadas operações nas proximidades de escolas, salvo em condições excepcionais. As forças de segurança devem criar, ainda, canais sigilosos para sinalizar a direção escolar sobre a ação.
Em alerta pela recorrência de confrontos no entorno escolar e ausência de canais diretos de comunicação entre as escolas e as polícias, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro (DPRJ) processou o governo estadual. A decisão da 1ª Vara da Infância e Juventude da Capital obriga a PCERJ e a PMERJ a cumprirem as suas próprias normas.
A PMERJ, em nota, informou que determinou em 2019 que os batalhões forneçam contato telefônico aos diretores para comunicar ocorrências via WhatsApp. Sobre os confrontos, a corporação alega que ‘as ações são motivadas por grupos de criminosos que insistem em atacar covardemente os membros da polícia militar e impor seu domínio territorial sobre a população, posturas essas incessantemente combatidas pela instituição Polícia Militar, que trabalha continuamente pela manutenção da segurança da população de bem do Estado do Rio de Janeiro’.
A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro não se pronunciou sobre a decisão judicial.
De acordo com a sentença, as operações no entorno escolar só deverão acontecer em situações de ‘perigo iminente, concreto e comprovado’. Os comandos das polícias civil e militar são obrigados a apresentar, em até cinco dias, um relatório completo à Defensoria Pública e ao Ministério Público (MPRJ). O relatório deve informar: o motivo da operação, os nomes dos envolvidos, armamento e tipo de munição que utilizaram, além saldo operacional. Em caso de tiroteio, ainda é necessário identificar os autores e a quantidade de disparos efetuados.
Os helicópteros precisam manter uma distância horizontal de dois quilômetros das escolas, que é o perímetro de deslocamento médio dos estudantes. Para Beatriz Cunha, defensora pública que moveu a ação judicial, a polícia integra o Estado e, por isso, tem o dever de tutelar o direito da criança e do adolescente. De acordo com a defensora, as ações consideradas excepcionais acabaram se tornando a regra.
“Parte dos tiroteios são desencadeados em operações policiais e outra parte pelo tráfico. Todavia, o que a gente verifica é que não está havendo comunicação para informar a rede de educação, sobretudo quando esses tiroteios se iniciam em operações policiais. Estado e município deveriam atuar em conjunto para mitigar os danos à rede de educação. A gente precisa exercer o controle e a fiscalização dessas operações. Sob o ponto de vista democrático, é imprescindível que tenhamos as informações necessárias para verificar se de fato havia uma excepcionalidade”, explica.
Cunha é coordenadora de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Cdedica) da Defensoria Pública.. Ela explica que estar na linha de tiro viola uma série de direitos, principalmente o direito à vida e à integridade física.
“Há uma violação ao direito à educação, porque o processo de aprendizado é interrompido, mesmo quando as aulas não são suspensas antes, são suspensas no meio. Além disso, os estudantes também têm o direito à convivência familiar e comunitária violados. Muitas vezes não podem brincar nas ruas, trafegar, estar com suas famílias por conta desse tiroteio. Onde essas crianças vão poder ser crianças como todas as outras?”, questiona.
Mudando as regras do jogo
Deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) tentaram tornar as diretrizes da instrução normativa um projeto de lei em 2018, mas encontraram dificuldades.
“Ainda não conseguimos encontrar legalmente a melhor delimitação respeitando a constituição. Sabemos que não podemos depositar na direção escolar uma informação que depois ela pode ser cobrada pelos próprios grupos criminais, por não repassar que sabia que teria operação”, afirmou Flávio Serafini (Psol), presidente da comissão de Educação.
Por enquanto, sem força de lei, a Comissão de Educação busca com o governo estadual uma negociação. Apesar da dificuldade em estabelecer normativas para as áreas escolares, uma iniciativa para regulamentar operações policiais progrediu na Alerj em junho de 2020. Em caso de lesão corporal ou morte por intervenção policial, a perícia técnico-científica deverá ser acionada. As polícias ficam obrigadas a implementar programas para redução das mortes nas operações e excessos no uso da força, conforme orientam protocolos internacionais dos quais o Brasil é signatário. O projeto, de autoria do deputado estadual Carlos Minc (PSB), ainda precisa ser sancionado pelo governador.
As pressões externas para regulação da atuação policial — por parte do TJRJ, da Alerj e do STF — refletem a ausência de mecanismos de controle interno nas corporações. A transparência sobre os protocolos, a letalidade das operações e confrontos na porta escolas tornam as polícias um fator de insegurança em alguns territórios. O alerta é da cientista social Jacqueline Muniz.
“A polícia foi deixando de policiar e substitui-se a administração de territórios e populações. Aqui a polícia é um fator de desordem, é um fator de aumento de risco. Porque segurança é o ir e vir, é mobilidade, circulação, deslocamento. Você sabe que está seguro quando está em movimento. Segurança não é algo dado, é construída para garantir mobilidade sócio-espacial”, destaca.
A retomada dos territórios sob domínio armado passa pelo investimento em tecnologia e inteligência.
“Você não pode fazer uma operação que põe em risco 300 mil pessoas. Você está produzindo desordem, insegurança e violando direitos. Polícia é antes, durante e depois”, conclui.
(*) Nome fictício adotado para preservação da identidade.


Perdeu documentos, objetos ou achou e deseja devolver? Clique aqui e participe do grupo do Enfoco no Facebook. Tá tudo lá!